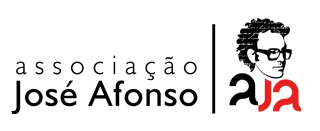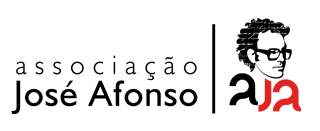O disco fraterno

Até 1971 e José Afonso entregar-se nas mãos de José Mário Branco – regressando de França com uma obra-prima na mala -, esta que se segue não era exactamente uma questão. O percurso de José Afonso era um somatório de experiências no sentido da consolidação de uma linguagem própria, primeiro soltando as amarras que temporariamente o haviam prendido a Coimbra, depois avançando com timidez para uma canção de magnetismo suficiente para atrair a música africana e as músicas populares portuguesas. Mas depois de Cantigas do Maio, de uma construção musical ambiciosa e sofisticada, e de um feito prodigioso para a história da música deste país, o caminho bifurca-se: passa a haver um Zeca Afonso do palco e um José Afonso do estúdio.
Nas suas actuações, Zeca far-se-ia sempre acompanhar por um viola e pouco mais, reduzindo a sua música ao osso, a uma função eminentemente política e a uma extensão da fraternidade – as canções como prolongamento de uma partilha maior de valores, lutase e crenças. Daí que, em 1972, quando avança para a gravação de Eu Vou Ser Como a Toupeira, o músico pareça querer recuperar igualmente essa ideia de espelho fiel: olha-se o estúdio e vê-se o palco. Ao contrário do que acontecera em Paris com José Mário Branco, aqui não há músicos de sessão, há antes uma convocatória distribuída entre amigos e companheiros de estrada portugueses e galegos. José Jorge Letria, que muitos palcos partilhara já com Zeca, foi um dos que seguiu para Madrid. As suas palavras caem dentro dessa definição: “Creio que ele procurava um compromisso entre o total improviso do palco e a rigidez planificada do estúdio de Hérouville. Para ele o clima era este – trabalho de grupo. Ele era um obcecado com o colectivo porque queria sempre diluir o seu protagonismo natural e legítimo. Ele era mais um. Era um companheiro, um camarada, um militante de base”.
A decisão é, de facto, levada quase até às últimas consequências. Em Eu Vou Ser Como a Toupeira a ficha técnica não nos diz quem tocou o quê. O “trabalho de grupo” varre para debaixo do tapete os protagonismos, as maiores contribuições e esconde também quem, na verdade, mal deixou a sua marca no disco. Há uma recusa de hierarquização. A obra colectiva é, no entender de José Jorge Letria, “uma expressão política do pensamento político” de José Afonso. Ele que subia a um palco e anunciava “Eu não sou um cantor, sou um animador”, ele que subia a um palco e declarava “Eu não faço espectáculos, faço sessões populares”, ele que olhava para as salas onde era convidado a actuar como “tribunas de comício” e para os concertos como “actos essencialmente políticos e não tanto artísticos”. Letria e Fanhais andavam com ele “numa roda-viva, sobretudo nas zonas operárias, desde os estaleiros de Viana até à Marinha Grande e ao Alentejo e Margem Sul”. Nessa altura, no período chamado “pós-Zip” – pós-69 -, actuavam juntos três e quatro vezes por semana.
Depois desses concertos, não raras vezes, Zeca acabava a pernoitar em casa de Letria, para os lados da Avenida de Roma, Lisboa. Foi nesse contacto mais íntimo e longe dos ouvidos indiscretos que o seu companheiro de tantos palcos tomou contacto com o método de composição: “Ele normalmente ia a trautear, a assobiar as canções e então precisava urgentemente de um gravador que tivesse ali ao pé para assobiar, trautear, registar uma estrofe ou duas”. “Depois”, acrescenta Carlos Alberto Moniz, “enchia a cassete, virava o lado, aquilo acabava e virava outra vez – chegava a levar quatro banhos de música e, claro, ia apagando as primeiras ideias”. As canções eram depois construídas em torno
dessa referência melódica base.
O ambiente de pouca planificação atravessa a semana de gravação nos Estúdios Cellada.
As músicas, segundo recordava José Niza, eram alinhavadas de véspera, no hotel, e levadas para estúdio sem uma forma final muito rígida. Os ensaios, lembra, Moniz, nunca foram algo que Zeca apreciasse especialmente. Tanto que o grupo chega a encontrar-se antecipadamente com o galego Benedicto Garcia em Setúbal, mas apenas “dois ou três dias antes” da partida para Madrid. Moniz conta até que, nessa mesma altura, e antes de um concerto importante na Fête de l’Humanité, em Paris, no mesmo palco por onde passariam Mikis Theodorakis ou Leonard Cohen, tinham passado uma semana na Fuzeta para ensaiar. Mas os ensaios acabavam sempre empurrados para fora dos dias. “O Zeca punha o seu kimono e íamos todos correr para a areia primeiro, antes de ensaiar. Como
pessoa talentosa que era, inventava tudo para não ensaiar. Corríamos na areia, ele ensaiava os passos de judo e depois à noite, antes do ensaio, era capaz de vir dizer ‘hoje dá ali um filme bestial’. Eu a pensar que era um Truffaut ou um Renoir e era um filme de kung fu. Mas íamos todos ver o kung fu e, no final, ele dizia ‘Bestial, agora que a gente descomprimiu o ensaio vai correr bem’ e ensaiávamos às tantas”.
A maioria dos músicos vai chegando de comboio à capital espanhola e ao grande apartamento que Arnaldo Trindade lhes alugara na Torre de Madrid -arranha-céus numa das principais artérias da cidade -, enquanto Zeca parte com Carlos Alberto Moniz e a sua mulher Maria do Amparo num dois cavalos vermelho. Para Letria, “ele percebe com o José Mário que há um horizonte orquestral que tem de aproveitar e que vai enriquecer a sua música. A partir desse momento acaba o clima de happening que caracteriza as gravações dele. Mas, apesar de tudo, o Eu Vou Ser Como a Toupeira ainda é marcado por esse clima, uma situação em que chegamos ao estúdio e nada está pré-programado”. Até por isso, Letria chega a pôr-lhe a questão de não ser “propriamente o instrumentista que Zeca
precisava de ter”, alguém como fora Bóris até aí e seria Yório Gonçalves daí em diante, na posição de guitarrista-âncora.
Só que o espírito que atravessava os vários quartos do apartamento conservava ainda “um ambiente de euforia colectiva que tinha muito de república coimbrã, daquela Coimbra académica, boémia, conspirativa”. À noite fazia-se o brainstorming em torno das canções, procedia-se a uma distribuição de funções e papéis – “amanhã avançamos com esta, tu tocas esta guitarra, tu tocas aquela, tu fazes a percussão” – e iam-se juntando ideias voadas de todos os lados, dando sustento e corpo à ideia de criação colectiva. A presença dos músicos galegos nesse grupo adquiriria uma dimensão simbólica – o papel de Benedicto (do grupo Voces Ceibes), Pepe Ébano ou Maîte é, ao contrário do de Carlos Villa, de uma diminuta relevância musical, fortificando e oficializando sobretudo a relação próxima com aquela região. Ainda hoje, de resto, José Afonso é celebrado na Galiza como um dos seus.
Mas de onde vinham estes dois pilares – José Jorge Letria e Carlos Alberto Moniz – com quem nunca tinha gravado antes? “Ao Zé Letria que também sofre de azia” – assim se lê na dedicatória que lhe faz de um poema escrito em Maio de 1973 na prisão de Caxias – conhecera-o em 1968, recém-regressado de Moçambique, num convívio universitário da Faculdade de Direito de Lisboa. Como também ele era um fazedor de canções em português, rapidamente integrou o pequeno grupo dos cantores de intervenção. Moniz, chegado dos Açores para estudar Agronomia, apresentava-se sempre na primeira fila das noites organizadas pela associação de estudantes no anfiteatro da sua faculdade, de guitarra descansada no colo, à espera que alguém desse por ele e o chamasse para o palco. Esse alguém foi Adriano Correia de Oliveira. “Não és tu o puto dos Açores?”. Moniz soltou um tímido “Sou”. “Então amanhã temos gravação”. Na gravação, de temas tradicionais açorianos, conheceu Zeca que com o mesmo desprendimento o informa: “vais tocar comigo também”. O terceiro pilar, José Niza, era um velho conhecido que acompanhava desde as digressões da Tuna Académica de Coimbra em 1958.
A partir daí, chegados ao estúdio, era sobretudo o instinto musical de Zeca que guiava o grupo, que seguia atrás de si. Na descrição de Letria “havia ali uma grande imprevisibilidade e um grande improviso, mas que correspondia a uma coisa em que todos acreditávamos muito que era uma intuição apuradíssima que ele tinha. Às vezes parecia uma coisa pouco sustentada e até ridícula, mas aquilo correspondia sempre a uma coisa estruturada, profunda, sentida, porque ele era realmente um génio musical. Nas palavras não mexia; agora, não cantava duas vezes a mesma coisa da mesma maneira”. O resto, na verdade, estava em permanente mutação, até porque os períodos de estúdio eram de grande ansiedade e nervosismo para José Afonso – que podia perder-se (nos seus passeios pela cidade ou em idas ao cinema), ter uma crise a que chamava “uma pedra no diafragma” ou outro acontecimento inesperado. Gravar, acredita Letria, era para Zeca “um martírio”. E só o fazia, acredita ainda, para justificar o adiantamento de Arnaldo Trindade.
Na verdade, acredita ainda mais um pouco, não sentia necessidade de registar as canções.
Apesar disso, era exigentíssimo, destoando em grande escala do comportamento tipo que estamos habituados a associar aos músicos mais canónicos: “estão sentados, a ouvir, não querem barulhos, sentados à frente da mesa de mistura e absolutamente concentrados”.
“O Zeca não”, ressalva. “Era um peripatético, andava permanentemente em circulação, de mãos nos bolsos, e tanto andava na régie como no estúdio. Mas com uma atenção permanente e total. E portanto vinham-lhe umas centelhas, umas iluminações, umas sugestões e isto mudava tudo”. Um desses momentos iluminados aconteceria quando, à procura de um som de percussão que não conseguiam encontrar, Zeca ouviu às tantas Niza num momento de pausa na régie a mastigar um bocadillo de presunto e percebeu que era esse o som que procurava, gravando-se então José Niza a comer com microfone cuidadosamente apontado à sua boca. Essas centelhas, no entanto, exigiam frequentemente aos instrumentistas uma descodificação em que importava uma sintonia mais poética do que propriamente musical. Segundo Moniz, “o Zeca conseguia transmitirnos o que queria, como os publicitários quando querem um jingle, dizendo coisas como ‘queria assim um som castanho, com um ataque entre o ferro e o bronze’. E a gente conseguia”.
Daí que as canções tenham chegado ao estúdio de Cellada não com uma forma final, fechada, mas antes em aberto, erguendo-se a partir dos esboços preparados mas abertas para as ideias em resposta àquilo que ia ficando cravado no esqueleto de cada tema. Um dos exemplos perfeitos deste método terá sido “No Comboio Descendente”, música sobre poema de Fernando Pessoa, congregador de uma série de palpites, sugestões e ideias que tornaram o seu registo especialmente sinuoso. Letria lembra igualmente “Ó Ti Alves”, com um forte cunho de Carlos Alberto Moniz, e que se socorre de parte de um pregão como tentativa de Zeca “aproximar-se o mais possível do clima de algumas canções numa perspectiva neo-realista dos sons que ouvira em África na infância ou mesmo mais tarde”.
Esse cunho, ressalva Moniz, faz de Eu Vou Ser Como a Toupeira um disco algo irregular, a que – para o bem e para o mal – falta “uma unidade nos arranjos”. Num tema é o cunho de Moniz que sobressai, noutro é o de Benedicto, noutro ainda é o de Niza, etc. Um dos temas que, curiosamente, não levantou dificuldades de maior foi aquele que serve de arranque ao álbum: “A Morte Saiu à Rua”. Na verdade, o problema com a canção fora anterior à partida para Madrid. Tentando ludibriar a censura, e depois de lhe perceber as manhas, José Niza pede a Zeca Afonso que o municie de poemas propositadamente mais carregados politicamente que não estão sequer previstos seguir para gravação. Servem apenas de manobra de distracção preparada para saciar a sede de cortes dos censores, preservando intacto o grupo de canções originalmente pensado para as gravações. No caso de Eu Vou Ser Como a Toupeira acontece que “A Morte Saiu à Rua”, tema-charneira do disco, é censurado num primeiro momento. Niza convida então o ex-coimbrão Pedro Feytor Pinto, ligado à censura, para um almoço no restaurante A Varanda do Chanceler. O acordo de cavalheiros entre ambos solta o tema e permite que todos aqueles que faziam parte do plano de gravação passem incólumes, sem riscos feitos a lápis azul.
E passou também, naturalmente, o tema que baptizou o álbum. Em entrevista ao próprio José Jorge Letria, então jornalista no República, Zeca reconhecia ter de se fazer modelo das toupeiras. Havia que “abrir galerias subterrâneas, ir rasgando caminho”. A canção, por muito bonita que fosse, não podia ser mero adorno.”
Gonçalo Frota, Maio de 2012*
* Texto escrito a propósito da reedição da obra de José Afonso pela editora Art Orfeu.