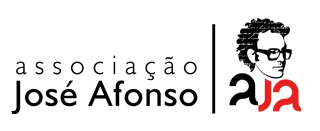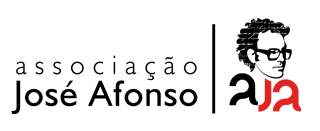Louvor e memória de José Afonso
Na rádio inaudível que nos dão (salvam a honra do convento as Antenas 1 e 2 e pouco mais), ainda é possível escutar – mas não muito – uma ou outra voz mais ou menos consensual, em língua portuguesa. Bem como, por exemplo, algumas vozes brasileiras da moda (desiluda-se, porém, quem goste de António Carlos Jobim, Vinicius e Toquinho, João Gilberto, Elis, Chico Buarque, Edu Lobo ou Ivan Lins). Mas o grosso da «música» – e a palavra «grosso» tem aqui duplo sentido – é composto pelos mais comerciais subprodutos da indústria musical anglo-saxónica, alguns deles repetidos até à náusea.
Postas em música, as línguas portuguesa, francesa ou espanhola foram praticamente banidas das nossas ondas radiofónicas, vergadas ao peso do mau gosto e da chamada língua franca (um inglês básico para duros de ouvido e compreensão), no que configura uma autêntica ditadura imposta pela praga matraqueante das «playlists». Os cordelinhos – é bom de ver – movem-nos os conselhos de administração das empresas de radiodifusão, os obedientíssimos directores de programação e, no topo, as máquinas comerciais da indústria musical dominante. Todos argumentam ir ao encontro do «gosto» do grande público – esse gosto que eles próprios ajudaram a de/formar, por razões economicistas e, naturalmente, ideológicas.
Associadas ao quase ostracismo a que foram votados os «autores» de programas radiofónicos (recordem-se aqui os saudosos «Página 1», «Câmara de Eco», «23ª Hora», «Em Órbita» e «Os Cantores do Rádio» ou, em tempos mais recentes, «O Som da Frente»), tais são porventura as razões de fundo por que hoje não é possível escutar, na rádio, Adriano Correia de Oliveira e Francisco Fanhais, José Mário Branco e Fausto, Vitorino e Janita Salomé, Manuel Freire ou a Brigada Victor Jara. (Quanto à guitarra de Carlos Paredes, apenas se consegue ouvi-la como fundo musical de algumas reportagens ou então de peças breves dando notícia de homenagens à obra do genial compositor e intérprete.) Mercê de uma inteligente fusão da sua música com os ritmos e atmosferas sonoras da moda, ou graças à colaboração com músicos mais jovens que os praticam (como os Clã), Sérgio Godinho ainda logra marcar uns pontos nas rarefeitas ondas radiofónicas do nosso descontentamento. As quais – convém recordá-lo – utilizam espaço público de radiodifusão, mesmo se concessionadas ao sector privado.
Se quisermos contudo apontar um exemplo paradigmático desta velada censura à música popular urbana de qualidade, cantada em português, teremos naturalmente de falar em José Afonso.
Desde os seus primórdios coimbrões – marcados pelo benigno ascendente do chamado fado de Coimbra –, as canções de José Afonso sempre foram a simbiose perfeita de três aspectos a reter: uma poesia singular, uma voz única (de timbre e coloração inconfundíveis) e um talento inato para a melodia. E ao falarmos de melodia, e também de ritmos, não é possível esquecer a fidelidade desta música às raízes mais profundas da música popular portuguesa, mas também a sua dívida em relação aos ritmos da África e do Brasil, para não falar da irmã Galiza – que em devido tempo soube homenagear o cantor com um espectáculo e o descerramento de uma lápide no Auditório da Galiza, em Santiago de Compostela.
O que todavia irrita e inquieta os senhores da rádio talvez seja a aura indissipável de José Afonso como antifascista e democrata, a sua dimensão humana de companheiro fraterno e solidário, disponível para todo e qualquer combate em prol dos injustiçados deste mundo: os pobres, os sem-terra, os povos em luta pela sua dignidade e independência. José Afonso ridicularizou como ninguém o salazarismo, mais tarde a rede bombista e a recuperação capitalista após o 25 de Novembro. Mas cantou também o amor, a amizade, os direitos da mulher. E vazou tudo isto em versos e melodias de uma alta temperatura musical e poética, mesmo naquelas composições em que não renegou a sua intimidade, experiência pessoal e contradições, e se deixou imbuir (e bem) dos influxos da poética surrealista, de um aparente «nonsense» ou mesmo do espírito das fatrasias de raiz popular.
Por muito que muitos o prefiram ignorar, a imagem, a voz e a obra de José Afonso converteram-se em símbolos do 25 de Abril (será necessário recordar a «Grândola», o «Venham mais cinco», «Os índios da Meia-Praia», a «Utopia»?), expressão da resistência de um povo em combate pela liberdade e por uma vida digna.
Quase duas décadas após a sua morte, a música de José Afonso está mais viva e actuante do que nunca. Venceu, como poucas, a lei da morte e o efémero. Muitos a guardam na memória e em cassetes, velhos discos de vinil e CD. E continuam a escutá-la. Por vezes, quase clandestinamente. Isto porque a rádio, a nossa rádio, a silenciou e só conhece hoje um pacto com a mediocridade, o fácil, o insidioso pensamento único – o mesmo é dizer, sobrevive em inaceitável compromisso com tudo o que cheira a ignorância, a mortos-vivos e a mau viver.
José Afonso, esse, está vivo. E bem vivo. Até porque – não o esqueçamos – soube cantar também outros vivos ilustres: Airas Nunes e Camões, Lope de Vega e António Nobre, Reinaldo Ferreira, Ary dos Santos, António Quadros e outros mais, como Fernando Pessoa – esse que, num dia de inspiração, não resistiu a metaforizar Portugal na forma de um «comboio descendente», onde «uns riem por ver os outros / e os outros sem ser por nada».
José António Gomes